Palestina que reconhecimento?
Escuridão nas escadas interiores de uma casa-esconderijo em Atenas. Dois homens, um membro palestiniano da OLP, outro disfarçado de militante de esquerda alemão, dialogam, entre cigarros, na penumbra. Sem saber que está, na verdade, a falar com um agente da Mossad (Avner), o palestiniano (Ali) confessa a essência da sua luta: a destruição de Israel.
«Um dia, os Estados árabes levantar-se-ão contra Israel. Não gostam de nós, palestinianos, mas odeiam ainda mais os judeus. Podemos esperar para sempre. Temos muitos filhos, e os nossos filhos terão filhos. Se for preciso, faremos do mundo inteiro um lugar inseguro para os judeus.»
Avner, sob a máscara do simpatizante europeu de esquerda, devolve-lhe a conclusão lógica do seu silogismo implacável: «Não há paz no final deste caminho».
Este breve diálogo, extraído de uma cena do filme Munique, de Steven Spielberg (que recria a operação secreta de agentes da Mossad enviados para vingar o massacre de atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de 1972), fixa e revela o cerne do dilema do conflito israelo-palestiniano: não uma guerra por terra, mas pela negação absoluta do outro; a «casa» identificada com a «destruição de Israel».
E é precisamente à luz da verdade inscrita neste diálogo sombrio que devemos olhar para o atual debate europeu sobre o reconhecimento de um Estado palestiniano. Numa altura em que alguns Estados europeus procuram impor uma posição comum a favor do reconhecimento do Estado da Palestina, sustentando, com comovente simplicidade, que a ausência desse Estado seria a causa fundamental de todos os impasses e males do conflito no Médio Oriente, é essencial que seja compreendida a verdadeira origem do mal. É necessário resistir aos mitos criados por aqueles cujo objetivo último não é a paz, mas, a pretexto dela, a negação pura e simples da existência do Estado de Israel. Tais mitos, urdidos sob a capa de ideais generosos, encontram terreno fértil na esquerda europeia e, não raras vezes, contam com a complacência de setores da direita dita tradicional.
Na verdade, na origem do conflito está a negação de um Estado. Mas não o da Palestina: o de Israel. A verdadeira falha fundadora não foi a omissão de um Estado palestiniano, mas a recusa sistemática, da parte árabe, em admitir que pudesse existir um Estado judeu soberano, ainda que confinado a uma ínfima porção do território que o mundo árabe considera parte sagrada do Dar al-Islam (um grão geográfico que representa menos de dois décimos de 1% do território árabe-muçulmano).
Essa recusa – anterior a 1967, anterior até a 1948 – não apenas deu origem ao conflito, como continua a perpetuá-lo. Desde 1937, com a proposta da Comissão Peel, os judeus aceitaram, uma após outra, as sucessivas ofertas de partilha territorial. As lideranças árabes rejeitaram uma após outra, em nome de um imperativo absoluto: impedir a existência política da autoridade judaica.
Em 1947, a ONU aprovou a Resolução 181, propondo a criação de dois Estados, um judeu e um árabe (com estatuto especial para Jerusalém). Os judeus aceitaram. Os árabes recusaram e responderam com a guerra. No dia seguinte à declaração de independência de Israel, sete exércitos árabes invadiram o recém-nascido Estado. O objetivo não era criar a Palestina: era apagar Israel do mapa.
Dois factos bastam para expor, com clareza clínica, a verdadeira natureza da recusa: o período entre 1949 e 1967 (entre o fim da Guerra da Independência e a Guerra dos Seis Dias) e a carta de fundação da OLP, de 1964 (anterior, portanto, à Guerra dos Seis Dias e à ocupação israelita da Cisjordânia e de Gaza). No final da Guerra de 1949, iniciada pelos países árabes (que a preferiam à criação de um Estado palestiniano), a Faixa de Gaza ficou sob ocupação egípcia e a Cisjordânia sob anexação da Jordânia. Durante dezoito anos (um segmento temporal que não pode ser qualificado como episódico), nenhum Estado palestiniano foi sequer equacionado naqueles territórios que hoje, segundo nos garantem os especialistas instantâneos, se encontram «ocupados» e, por isso, «ilegais à luz do direito internacional».
Nada de proclamações, nada de movimentos de autodeterminação, nada de apelos internacionais em nome da Palestina, nada de indignação académica sobre o «imperialismo neocolonialista» egípcio ou jordano. Aquilo........

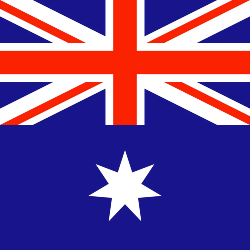

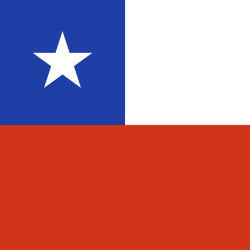














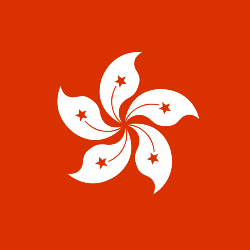



 Toi Staff
Toi Staff Sabine Sterk
Sabine Sterk Gideon Levy
Gideon Levy Penny S. Tee
Penny S. Tee Waka Ikeda
Waka Ikeda Mark Travers Ph.d
Mark Travers Ph.d John Nosta
John Nosta Daniel Orenstein
Daniel Orenstein
